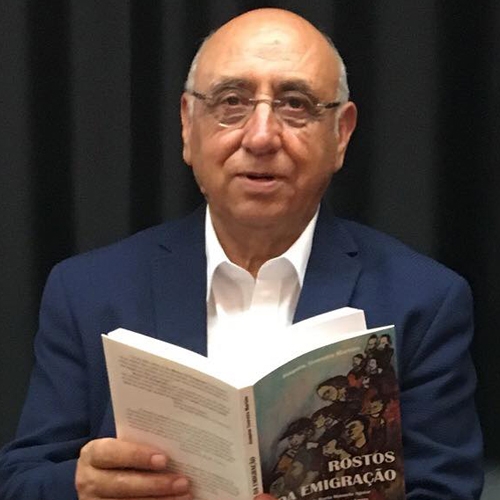Esta publicação é da responsabilidade exclusiva do seu autor!
No romance, Veneno de Deus, Remédios do Diabo de Mia Couto, o navio Infante D. Henrique, da Companha Colonial de Navegação Portuguesa constitui-se como “personagem” cuja centralidade é determinante nos destinos dos seus passageiros e dos países que representam. Na verdade, encerram, movem, conciliam ou desafiam oposições políticas, guerras e confrontos individuais e nacionais ao mesmo tempo que integram ou fraturam identidades, edificam ou desfazem sonhos e ideais.
Bartolomeu Sozinho é um velho mecânico naval moçambicano, que, entre 1962 e 1975 viveu a bordo do transatlântico Infante D. Henrique. Ainda que o tempo da ação seja o tempo pós-independência, logo no segundo capítulo o leitor é conduzido a esse outro tempo, inexistente já, perdido, impossível de recuperar e não só por não ser possível a Bartolomeu voltar a ter vinte anos (a sua idade quando “conheceu” o navio), mas porque o contexto histórico e político é agora outro.
Recuamos, contudo, a 1962, quando o paquete Infante D. Henrique na viagem inaugural da rota ultramarina, fundeia em Porto Amélia (a Pemba atual), momento em que Bartolomeu Sozinho, que até então vivera a “dois oceanos de distância”, trava conhecimento com a vida do navio aí começando a trabalhar, como muitos outros, a carregar passageiros (“encavalitados nas costas dos homens negros para não molharem os pés”). Findo o trabalho, Bartolomeu não consegue, todavia, afastar-se do navio e continua na praia, contemplando-o.
Estava impressionado, abalado e comovido e ainda não conhecera a elegância da sua decoração interior, nem é certo que alguma vez a tenha conhecido pois que apenas faz referência à sala das máquinas, o seu lugar de trabalho, o seu posto no navio, o espaço que o identifica e lhe norteia o rumo e os dias. Nesse estado inicial de arrebatamento e deslumbramento, “arrelampado”, Bartolomeu pede, em surdina, que o navio não abandone mais a sua cidade, ou não o abandone mais a ele, que espaço e sujeito se diluem já no reflexo das luzes cintilantes. O irmão adivinha-lhe a ilusão advertindo-o para a realidade de que “pé de preto só pisa canoa”.
É aqui já o navio, como será ao longo de toda a narrativa, emblema da desigualdade racial e mote para reflexão. Para o irmão de Bartolomeu, a cada raça seu tipo de barco. Para o avô, brancos e negros partilhavam há muito a mesma embarcação, em grandes viagens sem retorno para estes que, dominados por aqueles, seriam vendidos, humilhados, acorrentados e escravizados. Mas a ânsia de pisar o barco, ou o seu desejo maior de “lonjura”, são de tal modo avassaladores que aceitaria até entrar como escravo.
Uma sequência de coincidências se ordenam no dia seguinte: uma avaria paralisa o motor; o mecânico principal do navio, assim como os seus assistentes, adoecem com malária; procura-se um mecânico em terra; o avô de Bartolomeu, não sabendo nada de navios daquele porte, sempre fora mecânico e entra com o neto disposto a fazer mais do que sabia; sofre um acidente que lhe inutiliza um braço; é transferido para a capital para ser tratado no hospital; o rapaz acompanha-o sempre e conhece o comandante do navio, que com ele “engraçou”, prometendo-lhe outros futuros.
Na viagem seguinte, Bartolomeu embarcará no Infante e aí navegará até ao final do regime colonial. Já velho, doente, fechado num quarto, num isolamento que se autoimpõe, quando olha para a rua vê o mar e escreve cartas para a Companhia Colonial de Navegação, também ela já desaparecida, por ser esse o único “barco” que lhe restara, a única âncora que o impede de ficar fora da vida.
A história da personagem interseta-se com a cronologia do navio, também ele por duas vezes isolado, esquecido, abandonado. Construído nos estaleiros “J. Cockerill Ship – Building Lda” em Hoboken, Antuérpia, foi lançado à água em 29 de abril de 1960, tendo começado a navegar em 7 de fevereiro de 1961. Com um comprimento de 195 metros, atingia uma velocidade máxima de 21 nós, movido por dois grupos de turbinas a vapor. Foi o último dos grandes transatlânticos coloniais a ser construído e transportava 1018 passageiros (156 em 1.ª classe; 384 em Turística A e 478 em Turística B) mas destacava-se sobretudo pela modernidade e elegância dos seus compartimentos: quatro salões de música e festas, dois restaurantes, biblioteca, sala de leitura e sala de escrita, duas salas para crianças, cabeleireiro, hospital, duas capelas com altares de pedra trazida do promontório de Sagres (a terra do Infante que lhe dera o nome).
Durante anos, Bartolomeu faz com o navio a rota de África (Lisboa - Funchal – Luanda – Lobito- Cape Town – Lourenço Marques – Beira – e o mesmo no regresso). Orgulha-se de ser o único negro da tripulação, mas a independência do país impõe o fim das carreiras marítimas. Depois de 1975, o navio serviu de alojamento para os trabalhadores do porto de Sines, mas, encalhado durante anos numa lagoa artificial, a embarcação degrada-se. Adquirido pelo armador grego George Potamianos, é alvo de uma profunda reconstrução e remodelação no porto de Piréu, na Grécia, sendo rebatizado como “Vasco da Gama”. Foi depois navio de cruzeiros, fretado pelo operador turístico alemão “Neckermann Reisen”. Em 1988, quando fazia escala em Lisboa, sofreu um incêndio na casa das máquinas que obrigou a uma reparação nos estaleiros em Bremerhaven. Faz ainda uma volta ao mundo e centenas de viagens nas Caraíbas.
Em 1995, foi vendido à companhia “Cruise Holdings” das Bermudas e passou a chamar-se “Sewind Crouwn”. O seu último proprietário foi a companhia americana “Premier Cruises” que o voltou a utilizar em cruzeiros nas Caraíbas. Em 2000, passou a fazer cruzeiros exclusivamente na Europa, com partida de Barcelona. Nesse mesmo ano, por falência da companhia, foi arrestado tendo permanecido no porto de Barcelona até 2003, ano em que foi vendido, partindo para a China com o nome de “Barcelona” e bandeira da Geórgia. Foi desmantelado em 2004, na Índia.
Bartolomeu é um doente terminal num quarto fechado. O fim do império arrasta o navio e o seu mecânico para uma situação de inutilidade, desmantelados que ficam os préstimos de um e de outro. Só serviram enquanto houve colonizadores e colonizados, conquistadores e subjugados, relação de oposição que, curiosamente, é representada pela oposição entre duas personagens de raça negra: Bartolomeu e Alfredo Suacelência, inimigos de há muito; numa relação de rancor que nascera antes da independência. Para Bartolomeu, as viagens no Infante D. Henrique representam a conquista da “lonjura” e de novos horizontes, um feito alcançado por mérito próprio. Para Suacelência, a presença de um negro a bordo do paquete apensa servia o propósito maior do império de mascarar a realidade da existência de racismo.
Estas questões ideológicas parecem, contudo, pouco entusiasmar Bartolomeu. A nostalgia que sente não é, contrariamente às críticas que Suacelência lhe faz, saudade do colonialismo, ou conivência com o regime colonial, é saudade dele próprio, do seu tempo e do seu lugar de realização, lugar de liberdade porque de afastamento das limitações da sua vida e da sua cidade; lugar onde até “sofreu de poesia”.
A questão não é, pois, política ou partidária, é essencialmente individual, como se aqui, como em todos os tempos e lugares, o determinante não fosse sempre a felicidade individual.
Bartolomeu tem agora 70 anos. O reduto onde se isola é agora o seu navio, o único resquício dos “falecidos navios coloniais”, ainda que o seu lugar seja verdadeiramente a ausência de lugar que a vida no mar lhe proporcionou.
Apesar de toda a rivalidade manifesta entre as duas personagens, há um elo inquebrável entre elas: seja um passado partilhado; um sonho de liberdade não alcançado; uma expectativa de transformação da vida e do país não realizada.
Por tudo isto, ou apesar de tudo isto, Suacelência está disposto a gastar “uns fundos que tencionava despender na campanha eleitoral” para realizar o último desejo de seu rival: que o seu enterro tivesse um barco para levar seu corpo até ao cemitério, homem e navio se confundindo no rumo que a História e as histórias impõem às vidas.