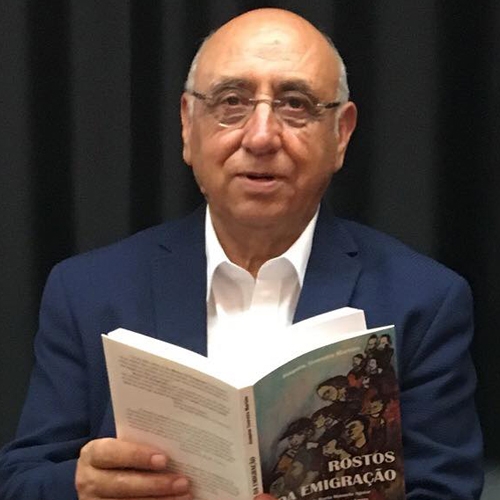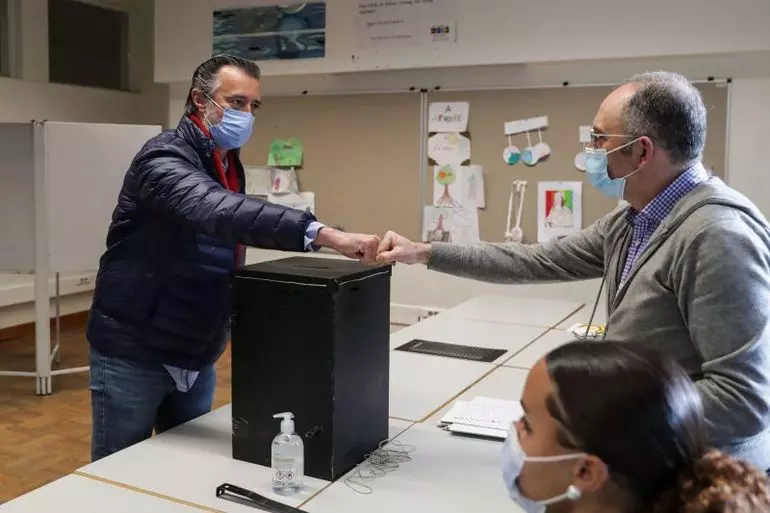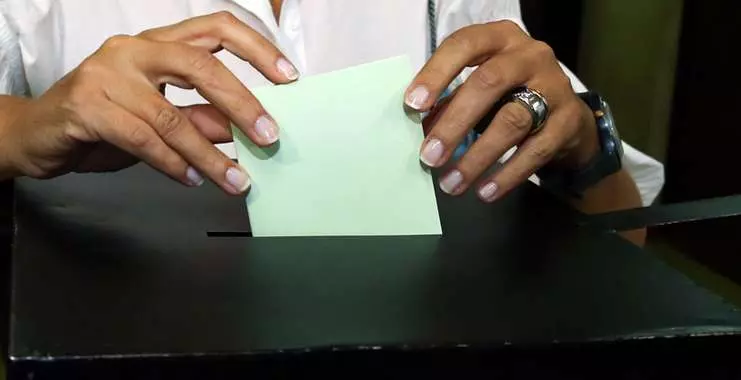Esta publicação é da responsabilidade exclusiva do seu autor!
4 de Dezembro. Para muitos mais um dia, para outros uma data importante. Isto porque, é chegado finalmente o grande momento para os amantes do famoso “estilo Fincheriano”. Ao despertar, preparei um pequeno almoço bem reforçado, afinal, apesar de se tratar de uma sexta-feira, tive imensa coisa por fazer. O trabalho decorreu dentro do previsto, sem quaisquer inconvenientes, como tem acontecido desde março. Sinto-me tão bem nesta tranquilidade de teletrabalho, e apesar de sentir a falta do contacto com os meus colegas, a escrita de artigos e de conteúdos exige uma certa concentração, que só se atinge em plena solidão.
Depois de um dia bem passado, mantive o meu computador ligado, esse aparelho de bela aparência, mas que está cansado de estar ligado à corrente. Fi-lo porque iria assistir à estreia cinematográfica mais esperada do ano: “Mank”. O novo filme de David Fincher chegou à plataforma de streaming mais popular do mundo, para dar uma lição de história aos espectadores mais jovens, habituados a efeitos digitais e a ecrãs verdes. O objetivo da Netflix ao estrear este filme tem que ver com a constante aposta no cinema de autor, como aconteceu com Alfonso Cuarón (com “Roma” de 2018) e Martin Scorsese (com “O Irlandês” de 2019) e uma maneira paradoxal de aproximar-nos do cinema clássico.
Quanto à trama de “Mank” seguimos a controversa aventura de Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman), durante a escrita do argumento de “Citizen Kane”, em Portugal conhecido por “O Mundo a Seus Pés”. Não vemos tanto a luta de Mank contra Orson Welles (Tom Burke) pelos créditos do texto, mas sobretudo uma explosão de diálogos em permanentes flashbacks e flashforwards, para nos dar a conhecer Hollywood das décadas de 30 e 40. Além disso, viajamos no tempo para conhecer os principais rostos da política cinematográfica de então, como Louis B. Mayer (Arliss Howard) e, o homem a que Mankiewicz se inspirou para o protagonista de “Citizen Kane”: William Randolph Hearst (Charles Dance).
Tecnologicamente, “Mank” está recheado das melhores proezas, numa revisitação interessante àquilo que era possível fazer na época em termos de som, direção artística e fotografia. O preto e branco dá um foco sobre os corpos dos atores que parecem autênticas múmias num mundo que, como sabemos, agora faz parte do passado. A história, no entanto, não é tão antiga e retoma à força que as imagens em movimento têm na persuasão dos públicos. O cinema, a imprensa amarela de William Randolph Hearst (que passou a ser massificada nas redes sociais) não deixaram de nos enganar e o filme funciona bem por ser uma crítica ao sistema cultural norte-americano, que não está assim tão desvinculado dos interesses políticos.
No entanto, “Mank” deixou-me um bastante apreensivo em relação a outra questão. Tive que vê-lo duas vezes para ver se me consiga conectar emocionalmente com as personagens. Não aconteceu. Não há a magia dos romances e desromances de “La La Land: Melodia de Amor”, nem há a importância da memória que Quentin Tarantino tão magistralmente celebrou em “Era Uma Vez em… Hollywood”. As personagens falam, mas nem todos conseguirão entender o porquê… Por sua vez, acredito que os historiadores do cinema irão considerá-lo demasiado pretensioso e até banal porque já sabem tudo sobre os bastidores do filme que mudaria a sétima arte para sempre.
Com sorte, temos Amanda Seyfried no melhor papel da sua carreira. A atriz não é protagonista neste filme, mas a sua personagem como Marion Davies é uma recriação perfeita das mulheres secundarizadas para segundo plano naquela Hollywood em que a imagem valia ouro. Esta Marion Davis é uma construção escrupulosa do star system e das suas “vítimas”, os atores esquecidos e fracassados, que tentaram jogar um jogo dominado por homens e homens milionários, onde a emoção deixou de importar e passou a valer a constante falta de escrúpulos.
Antes de descobrir “Mank” valerá a pena conhecer outros filmes de Orson Welles como “Citizen Kane” ou “A Dama de Xangai” ou até mesmo a assistir ao filme “Eva” (1950), escrito e realizado por Joseph L. Mankiewicz, o irmão quase esquecido de Herman que neste projeto identifica as ganâncias do mundo do cinema.
O cinema também pode ser a arte da frieza, a arte do distanciamento emocional, mesmo que os filmes sejam praticamente todos vistos desde o espaço mais privado: a casa.