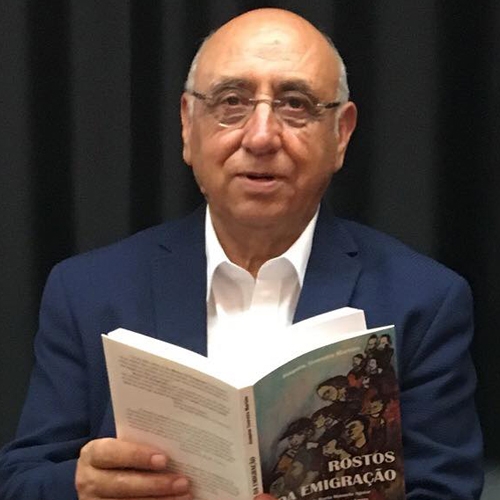Esta publicação é da responsabilidade exclusiva do seu autor!
Sob pena de continuarmos a viver em má fé, deveremos começar por mudar as regras do debate e do que é necessário discutir.
A questão não se trata de saber quando é que iremos voltar à “normalidade”, nem questionar se este retorno é possível.
A questão fundamental é a de saber que sacrifícios serão necessários e quanta violência será necessária exercer para podermos voltar à “normalidade”; e qual o impacto dessas exigências na saúde das Democracias.
Nos últimos tempos, assistimos ao levantar do véu e o nosso modelo de sociedade surge como simulação. Os estádios, as ruas e as lojas vazias surgiam-nos como uma performance, sem público, cuja realização era obrigatória. Em retrospectiva olhamos com suspeita, desejos conspiratórios; o ressentimento de estar a aderir e a cumprir algo que possa ocultar alguma informação.
As Democracias sempre foram um misto de conquistas reais e Universalidades ilusórias.
E é na interrupção do seu curso normal, que estas duas dimensões são testadas e questionadas. Thomas Hobbes e Max Weber saíram dos livros e espaços universitários para as ruas. Mas esta nova “Consciência Crítica” ainda se encontra na sua infância. Algo ainda a prende no debate público. Algo ainda nos impede de pensar como estranho, aquilo que antes constituía a nossa realidade.
Um dos aspectos que nos impede de dar o salto e de pensarmos as causas estruturais do que enfrentamos é o clima de “guerra fria” em que habitamos, que deturpa a distinção entre esquerda e direita, reduzindo a complexa rede de problemas a este antagonismo primário.
Foi possível constatar isso mesmo, nos recentes debates para as presidenciais. Por um lado, um candidato que mina as regras do debate, apresentando-se como a figura antagónica, e do outro lado da barricada, os como “representantes da Democracia”. Esta condução do debate varreu para o tapete as questões programáticas para o presente e futuro. O eleitor viu-se forçado, não a escolher entre programas, mas entre narrativas.
No caso da figura antagónica, puxou para si e concentrou todo o debate na sua imagem “irreverente”, ao mesmo tempo que aproveitou a linguagem da vitimização; apresentando-se como outsider utilizado como bode expiatório.
Os restantes, ao morderem o isco, deixam no ar o sentimento de que a sua função, durante a pandemia, traduz-se na preservação da imagem figurativa da Democracia: i.e., não se desenha um caminho em frente, mas um passo atrás para que as coisas voltem a ser "como eram", na assunção de que o passo em frente – na ausência de qualquer alternativa – seria apenas a queda no abismo.
Um estado de coisas, portanto, que nos oferece a escolher entre um relacionamento seguro – ainda que tóxico – e o piscar de olho a formas de sedução que transcrevem no domínio da política as ilusões que alimentamos acerca de nós mesmos: a pretensão de domínio sobre nós próprios e a existência de fronteiras claras entre o "Eu Próprio" e aquilo que é o seu exterior.
E é essa potência, a de poder excomungar a parte mais visceral e concentrá-la na figura de um político que irá permitir a proliferação da “má fé”. De que podemos levar a nossa vida de consumo e realizar os nossos projectos pessoais, ao mesmo tempo que bolhas e cercas são construídas para nos proteger e nos permitir habitar essas ficções de liberdade e normalidade e simular um projecto de Democracia.
Teremos de observar em que direcção irá avançar o modelo de organização da sociedade e a que sistema vamos chamar Democracia. Tudo depende do estado em que sairemos desta encruzilhada. O que irá resultar da pandemia? Um modelo de cooperação transnacional ou a criação de novas fronteiras, bolhas de “democracias liberais” mas rodeadas de muros; não apenas no plano físico, mas no próprio espaço digital. Zonas, ou até mesmo países inteiros Covid Free.
A própria estrutura das medidas de confinamento (do encerramento de fronteiras ao distanciamento social, passando pela ausência de toque) são propícias à construção de uma sociedade de consumo, vagamente progressista, mas que na prática não reconhece o outro como um "humano como eu", mas como um passível portador do vírus. Criamos uma redução do nosso contacto social e, para conseguirmos consumir, viajar, conviver, precisamos de nos "manter à distância" dos "irresponsáveis", que potencialmente me podem infetar, e vivem nos subúrbios, aborrecidos, e tendo apenas como espaço de convívio postos de combustível, a esquina do café, os drive-thrus das cadeias de fast food e usam transportes públicos. Esta dupla injunção ética que nos é prescrita como cura da pandemia: “consome e confina”, surge como uma forma propícia de veicular um sentimento antidemocrático, sem que ele surja como tal. Iremos ter uma terra de livre circulação ou uma reprodução, em jeito de paródia, do hotel ocidental, com catering e standards ocidentais, alojados em locais exóticos, que fecham o turista num ‘casulo com vista privilegiada para a praia’.
Dentro do Palácio de Cristal, ser-nos-á permitido consumir, fruir culturalmente, pensar numa nova forma de socialismo, mas que exclui o exterior; a globalização seria apenas um projecto para o mercado e consumidor e, em contrapartida, um controlo apertado da imigração para, de uma assentada, o projecto em curso e evitar reconfigurar os métodos de distribuição.
Hoje vivemos como na música distópica de Gary Numan:
“Here in my car. I feel safest of all. I can lock all my doors. It’s the only way to live in cars.”.
Resta saber o que nos espera quando pudermos voltar a abrir a nossa porta…