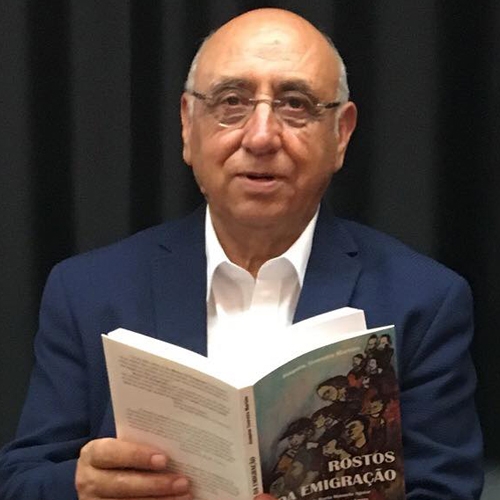Esta publicação é da responsabilidade exclusiva do seu autor!
Um dia pela minha errância Lisboeta deu-me sede e decidi entrar numa pequena mercearia, não muito longe da minha casa, em Arroios. Peguei numa garrafa de água e dirigi-me até à caixa para pagar. A funcionária era nepalesa e estava com uma criança ao colo e outra de uns sete anos ao seu lado, algo muito comum naquela zona tão metropolitana, onde ainda reside uma parte do meu ser.
Nesse dia eu estava com uma bolsa colorida que chamou a atenção deste atento olhar de luz. Ela disse-me num português muito rudimentar que gostava muito da minha bolsa. Eu ri-me e disse-lhe com humildade que tinha comprado por dois euros, ali perto no Mercado do Martim Moniz. A mulher olhou para mim e os seus olhos iluminados confessavam que desejava ter uma igual. Ela balbuciou no seu português improvisado que, com os afazeres do pequeno negócio que administrava com o marido, a somar-se o cuidado com os filhos e com a casa, não tinha tempo para fazer compras. Eu então respondi-lhe que podia comprar por ela. Esboçou-me um sorriso e anuiu, mas fitou-me com incerteza. Eu percebi pela linguagem universal humana que ela não tinha fé que eu fizesse esse obséquio. Afinal de contas, porque haveria de acreditar em mim, uma estranha? Sai da mercearia. Era um sábado lento, nublado e não tinha nada combinado. Havia muitos sábados assim. Sem planos. Sozinha na capital. Era uma solidão agradável que tornava os dias compridos, mas regados de independência. Vinha-me à mente os versos do grande Herberto nesses momentos:
“Sou fechado
como uma pedra pedríssima. Perdidíssima
da boca transacta”.
Dei por mim então a pensar que já que não tinha nada para fazer, não me custava nada caminhar mais uns quilómetros e ir até ao Mercado do Martim Moniz. Sempre me apaixonou aquele sítio. Era um lugar que me fazia viajar para onde nunca estive e que, por momentos, me dava a ilusão de estar a sonhar de olhos abertos.
Quando cheguei, logo na esquina, vi rapidamente o artigo que procurava. Comprei. Subi toda a Avenida Almirante Reis, atravessei a íngreme subida do Técnico, do lado da Fonte Luminosa, e numa rua secundária entrei na mercearia. A mulher não estava na loja e então falei com o menino de sete anos que, com responsabilidade de um adulto, tomava conta do espaço. Perguntei-lhe pela mãe e ele respondeu-me com um português quase perfeito que ia chamá-la. A mulher dos olhos de luz chegou e eu estendo-lhe a bolsa, acabada de comprar. Ficou contente e ao mesmo tempo atónita. Perguntou-me quanto me devia. Eu disse que não era nada. A mulher não queria acreditar, e insistiu em pagar-me. Voltei a negar-lhe o dinheiro. E então, ela disse-me para que eu levasse o que quisesse da loja.
Eu, na verdade, não queria nada, mas percebi pelo seu olhar que, da mesma forma que eu, ela queria partilhar algo que eu pudesse aceitar. E o que seria da vida sem partilha?
Da minha caminhada desenfreada, já tinha terminado a garrafa de água e então disse-lhe que podia, sendo assim, levar outra, para não fazer a desfeita. Despedimo-nos com um largo sorriso. Ela, com uma pele escura e com uns dentes tão brancos que encheram de poesia aquela pequena Mercearia. Que mulher bonita, com uns traços tão diferentes. Pensei eu. Há pessoas que não tem noção da beleza que emanam e isso ainda as torna mais bonitas. Sai então rumo a casa de coração cheio. Tive vários momentos destes em Lisboa. Tenho para mim que, a existir Deus ele expressa-se no divido ato da partilha.