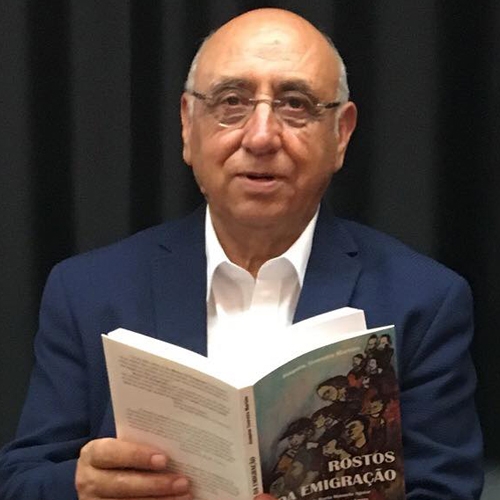Esta publicação é da responsabilidade exclusiva do seu autor!
Portugal Amordaçado. Em 1971, Mário Soares descrevia um país cujos gritos abafados pela mordaça a que estava sujeito eram ensurdecedores. Escrevia “a quente, no exílio” e falava principalmente sobre uma censura que, antes de ser “prévia”, seria preventiva - estava na cabeça de quem escrevia, pintava, cantava, atuava, antes do produto criativo vir a público. Esse estado subconsciente de submissão antes de ela ser forçada, foi a grande obra dessa organização.
Os efeitos do Estado Novo na psicologia nacional são profundos. Bem para lá do medo da PIDE e da censura, o regime moldou o modo como o país se vê a si próprio, à sua história, ao seu papel global, ao funcionamento da sua economia e ao lugar dos seus cidadãos na sociedade. Salazar teorizava que “os povos sábios ou são tristes, ou são cínicos. A nós, portugueses, coube ser tristes” - é dificil concluir se a sua teoria estava correcta ou se foi o próprio a torná-la correta.
De facto, o povo português foi sendo despido de todo o seu cinismo ao longo da duração do regime. Torna-se um estrito cumpridor de regras, um aderente fervoroso às normais sociais e políticas redigidas em São Bento - o Estado Novo transforma um Estado inexistente e caótico num aparelho altamente organizado e apetrechado para moldar o novo Homem Português. A tristeza, essa, será crónica.
Sob o signo das monumentais mudanças que o novo Estado emprega na administração territorial, judicial e militar, o Homem Português vê-se cercado de Estado - uma presença que antes é quase indetectável, agora é constante. Esta presença manter-se-á firme até à Revolução dos Cravos.
Imediatamente após a queda do regime eliminam-se com fervor a Polícia Internacional de Defesa do Estado (PIDE), a Censura Prévia e a Mocidade Portuguesa. Está conquistada a primeira fortaleza no caminho da liberdade. Seguem-se períodos conturbados: uma descolonização caótica que rapidamente foge dos eixos imaginados, um verão escaldante e uma autêntica guerra ideológica de trincheiras surge no momento em que a reconstrução do Estado é decidida. Apesar de tenebroso, o caminho para a democracia faz-se e tudo o que respira Estado Novo é destruído.
Tudo, à excepção de uma réstia silenciosa que continua a pairar na nação, um espírito que nunca foi conveniente eliminar ou sequer mencionar. A herança do Estado omnipresente não só não foi destruída como foi aproveitada e adaptada pelas forças políticas que de seguida chegam ao poder. A ideia de que o Estado deve estar infiltrado em todos os ramos da vida do comum Português é aceite sem grande contestação - quando não se concorda com certa decisão, tenta-se contorná-la, nunca mudá-la.
Quando não se gosta da escola na qual os nossos filhos foram colocados devido à sua residência, pede-se a morada a algum familiar ou amigo que resida na área da escola que realmente gostaríamos que o pequeno ou a pequena frequentassem. Quando chamamos a ambulância para um ente querido doente e preferíamos, por algum motivo, que este fosse levado para um hospital diferente da área de residência, tentamos que o médico da familia (se tivermos a sorte de o ter, de o conhecer e de o poder contactar livremente) “dê um jeitinho”. Quando não gostamos do peso fiscal num pequeno negócio tentamos “fazer por fora”. Quando o patrão desse negócio quer aumentar um empregado sem que este suba de escalão de IRS, este “dá por baixo da mesa”.
Não nos questionamos porque raio não poderíamos escolher a escola dos nossos filhos, nem porque tem de ser o Estado a decidir onde devo ser assistido hospitalarmente, nem porque os impostos são em tão grande quantia, nem porque um empregado é penalizado por querer ser aumentado dentro da lei.
Pede-se “um jeitinho”, liga-se “a um conhecido”, dá-se “por baixo da mesa”, pede-se para “fazer por fora”, entra-se “pela porta do cavalo”. Desenha-se um sistema complexo para fazer a vida funcionar à volta desse gigante que é o Estado sem nunca, mas nunca, questionar se o Estado devia mesmo ser assim. Assume-se que o fenómeno da “cunha” é cultural, que é algo muito nosso e até tem a sua piada. “As coisas são como são” e é na cultura da cunha que o povo luso encontra a sua última pequena reserva de rebelião, de insubmissão.
No final de contas, em Portugal o Estado é mais omnipresente que Deus e os partidos que governaram o país após a Revolução dos Cravos ocuparam-se de apagar diligentemente todos os vestígios da ditadura mas alegre e sorrateiramente herdaram essa dormência, resignação e “tristeza”.
No final de contas, um povo com estas características não pune a mediocridade, recompensa o “vai-se andando” e esta estabilidade rasteira sem grandes perspectivas - porque perspectivas excitantes são para outros, que lá para o norte da Europa têm dinheiro e pagam bem aos nossos filhos que eventualmente lá vão parar e no Natal ou no Verão nos contam umas histórias sobre a vida lá fora.
No final de contas, quando se retirou a mordaça ao país este já não queria gritar. O grito português é silencioso, é o mesmo que foi dado de forma clandestina durante o século XX como escapatória aos flagelos mais universais: guerra, pobreza e horizontes curtos. O grito português é emigrar. É um grito que se torna Fado, que traz lágrimas às mães e que salgou o mar. Mas é um grito que não sai à rua, vai de mansinho e tarde volta.
É um grito inevitável mas tem um brilho de esperança: consigo pode trazer mudança ideológica e cultural, pode trazer influência e frescura de políticas. Para isso, quem sai tem de assumir a responsabilidade de garantir que o seu díficil grito se transforma em voto pois só a mudança ideológica pode ambicionar acabar com o “exílio” que a tantos de nós obriga escrever “a quente”.