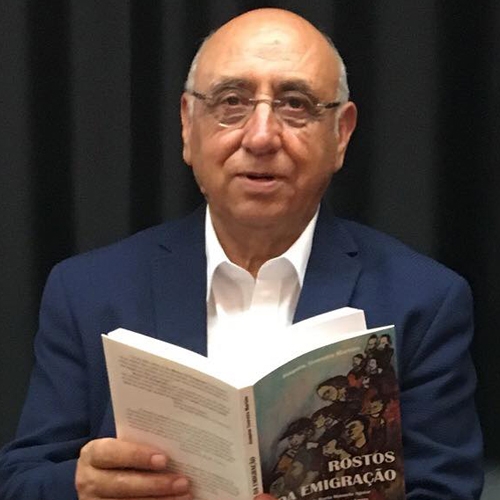Esta publicação é da responsabilidade exclusiva do seu autor!
A serra da Estrela ensejou o fabrico de tecidos de lã na «Manchester portuguesa»: no verão, dava pasto fresco ao gado ovino; a água das suas ribeiras movia as rodas hidráulicas e os engenhos de cardação e de fiação, era também indispensável para lavar a lã, para pisoar e tingir tecidos; a madeira das árvores servia de material de construção, a lenha alimentava a combustão que o aquecimento da água durante o processo produtivo requeria. O título deste texto reproduz um dito popular do século xvɪɪɪ que se encontra num painel informativo do Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior, na Covilhã. Diz muito acerca da lida do povo da terra, no passado e no presente, e aponta para diversas atrações que a cidade oferece a quem a visita.
Depois de uma passagem baldada no posto de turismo, onde deparei com uma funcionária gentil e com material informativo sem interesse, fui ao Museu da Covillhã. Situado num imóvel concebido por Ernesto Korrodi, apresenta traços e vicissitudes da história da cidade, desde a pré‑história até aos nossos dias, e surpreende pelo piso podotátil.
Placares em barda convertem o giro numa aula acerca da Covilhã e da região serrana. O acervo é agradável aos olhos e, acima de tudo, satisfaz o espírito cúpido de saber. Não sou capaz de destacar uma das peças em exposição. Menciono, ainda assim, as fotografias relativas à «Manchester portuguesa» enquanto terra de operários e o traje académico dos estudantes da Universidade da Beira Interior, cujo desenho obedece a uso regional. A capa e o chapéu são inspirados na veste costumeira dos pastores da serra da Estrela.
Fora da caixa relativa à história da cidade, assinalo Grandeza do meu pequeno grande manequim, óleo com firma do covilhanense Eduardo Malta: uma figura anónima dança livre de espartilhos ou convenções, no que pode ser visto como contraponto das pessoas ilustres, mas fingidas, que o artista retratou. Este quadro toca‑me. Para ser feliz e circular solto, tive de cortar relações com um ror de sujeitos — da minha família e do meio académico — cuja perversão, inveja e dobrez me enojavam e apequenavam.
Cruzei ruas e vielas, desci escadas e cheguei ao polo do Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior que está instalado na área de tinturaria da antiga Real Fábrica de Panos, manufatura estatal fundada em 1764 no âmbito da política pombalina de fomento da indústria. Pierre d’Angé, espião de negócios, tornou o Marquês de Pombal ciente da necessidade de situar a empresa num lugar bem servido de água. A tinturaria foi projetada seguindo símiles europeus, como a Manufacture nationale des Gobelins, e agrupava três oficinas de tingimento, casa da lenha e dois corredores com fornalhas.
Nesse espaço museal in situ, a minha retentriz voltou‑se para as armações onde se colocavam caldeiras de metal e para os poços cilíndricos que recebiam dornas de madeira. Tais estruturas arqueológicas, bem entendido, já existiam antes da criação do museu.
O cansaço forçou‑me a parar. Almocei no Monumental, estaminé sem graça nem história. Elegi panela no forno à moda da Covilhã, iguaria feita de arroz, carne de porco e enchidos. Porque a casa está perto da academia, venha a nota: dou 14 valores a esse prato típico da cidade. Quanto às papas de carolo, reforcei impressão anterior. Falta‑lhes paladar mais intenso, só a canela as salva da insipidez.
Ali almoçava um casal antipático, de Coimbra. No entanto, cada um dos seus membros falava com o outro, nenhum deles puxou do telemóvel, havia comunicação entre ele e ela. Isso regozijou‑me, às parelhas que vivem de janela aberta para a praça e cujos elementos dormem em quartos distintos, prefiro as que se cercaram de muralhas e mantêm abertas todas as portas dentro do castelo.
O polo do Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior acomodado em espaços que pertenceram à Real Fábrica Veiga, fundada em 1784 por José Mendes Veiga, é dedicado à industrialização do processo produtivo e ao progresso tecnológico que o setor têxtil e o subsetor dos lanifícios conheceram durante os séculos xɪx e xx. Mercê da elegância de antanho e pelo seu impacto visual, a rainha das peças em exibição é uma caldeira a vapor do último quartel do século xɪx, da marca De Naeyer & Cie, proveniente de uma fábrica da Covilhã. Atentei num exemplar do Contrato Coletivo de Trabalho para a Indústria de Lanifícios, recordei‑me da importância da negociação coletiva em matéria de condições laborais e acabei preocupado, sabedor da contração do âmbito da negociação coletiva na Europa. O recinto arqueológico do núcleo museal em pauta é formado, sobretudo, por estruturas para assentamento de caldeiras e deveio bonito conjunto artístico graças a Draperies, uma instalação de João Castro Silva na qual peças de madeira suspensas semelham panos a secar.
Na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, não achei prestigiosos tesouros nem elevadas pretensões artísticas, agradou‑me o teto pintado da capela‑mor. Folheei um missal abandonado num banco e verifiquei que ali tivera lugar uma cerimónia dois em um (casamento e batismo). Os respetivos organizadores eram pessoas atentas e ao missal juntaram um lenço de papel «para as lágrimas de alegria». Passei os olhos pelos convidados, em festa no adro da igreja. Vi muito country chic, damas seletas, pessoas parolas e outras que disfarçavam bem a sua fealdade. Eu não ando à procura de namorada. Se andasse, não a buscaria numa boda, pois aí os visuais são diferentes — e melhores — daqueloutros que sobram para o dia a dia.
A jornada continuou no centro da Covilhã. Nas casas, descobri marcas cruciformes que sinalizam a presença dos judeus (os sefarditas contribuíram para o progresso do setor têxtil e participaram nas Descobertas). Demorei‑me diante da fachada da Igreja de Santa Maria Maior — tem soberbo revestimento azulejar — e defronte da Casa dos Magistrados. Lanchei na Praça do Município, dominada por um complexo arquitetónico que seguiu o gosto do Estado Novo. De um jardim, admirei e fotografei a ponte pedonal, projetada por João Carrilho da Graça, que facilita a vida aos covilhanenses e é o emblema da arquitetura contemporânea da cidade. A arte urbana cravou em mim forte impressão. De um vasto conjunto de murais, destaco Ser serrano, de 2021, méli‑mélo assinado por TheCaver, com boa cor e referências ao mundo da serra e do pastor, e o expressivo Wild orphan, de Tamara Alves, feitura de 2014: uma mulher tece o seu corpete com bilros, os fios saem‑lhe do corpo.
Durante o dia devotado à Covilhã, com prazer me deixei obsidiar pelo orbe da lã, desse modo abordei a alma e a história da urbe. Reuni forças para me deslocar ao terceiro polo do Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior, o lugar onde, a céu aberto, é possível ver antigos estendedouros de lã — em chão inclinado e lajeado, punha‑se a lã em rama a secar — e râmolas de sol (artefactos compostos de barras com pregos, serviam para secar e estirar os panos de lã).
Jantei no restaurante Montiel. A fim de desenjoar da pesada manja beirã, comi um arroz com cherne digno de todos os louvores. O senhor que me atendeu elogiou a Covilhã e o caráter dos seus habitantes, não se queixou dos tratos da interioridade. A sua maior preocupação era a de muitos portugueses: a carestia.
A Covilhã não é terra na qual gostasse de morar. As vistas são boas e as pessoas são simpáticas, mas a cada um sua ordem, a cada um sua idiossincrasia — tanta subida e descida briga com os meus cansaços e com o apreço que tenho pela estrutura chã. Além disso, quando perguntei pela qualidade dos serviços médicos covilhanenses, responderam‑me com titubeios.