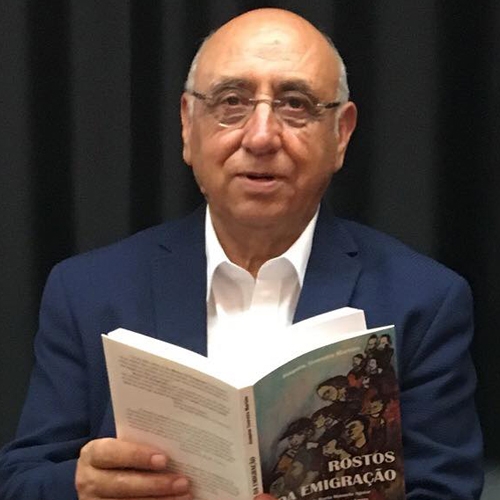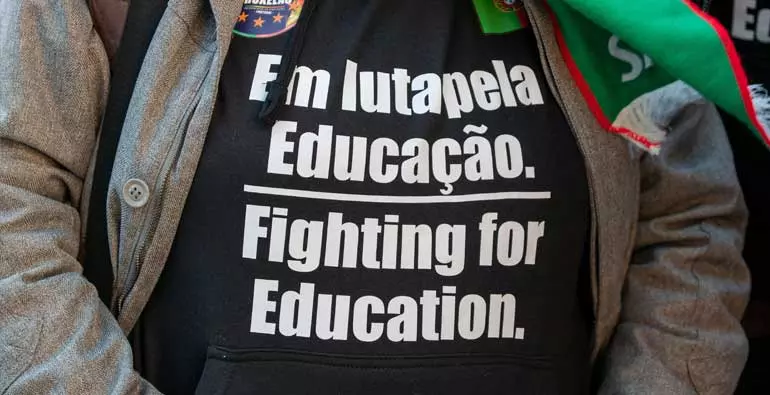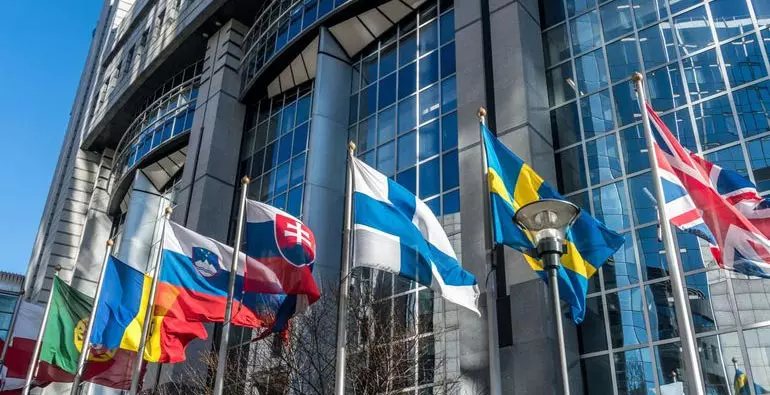Esta publicação é da responsabilidade exclusiva do seu autor!
Passámos alguns dias na ilha de Spitsbergen, a maior de Svalbard, arquipélago ártico com muitas terras sempre cobertas por glaciares.
Mercê das montanhas, dos fiordes e do clima, por ser ponto de referência para ver auroras boreais, pelo urso‑polar e em virtude de o Polo Norte ficar perto, o leitor antojar‑me‑á ali distraído por mil curiosidades, feliz e imerso em aventuras. Desengane‑se. Gostei pouco de Spitsbergen e, a partir de certo momento, senti fastio.
Por uma banda, não vimos auroras boreais. Por outra, era dificílimo explorar Spitsbergen na pele do viageiro autónomo. Sob pena de depararmos com ursos‑polares, não podíamos passear fora dos limites de Longyearbyen, centro administrativo do arquipélago e cidadezita onde estávamos alojados. O gelo e a falta de rodovias tornavam impossível alugar um carro e jornadear a nosso talante. Queria ir a Barentsburgo, lugar‑despojo soviético que me permitiria conhecer outra face da ilha e avaliar contrastes. Mas no inverno a banquisa impedia a ligação marítima e a viagem teria de se fazer com moto de neve. Ora, nós éramos incapazes de conduzir tal veículo, mesmo no quadro de excursão proposta por operador turístico, e tínhamos pouca vontade de ser guiados por outras pessoas, igualmente no âmbito desse tipo de empresa.
Quando aterrámos em Spitsbergen não tinha a cabeça vazia, desprovida de informações acerca dos susoditos escolhos. Também é certo que sabia o relevo que dou a circular de modo independente, sem peias e sem freios. Contudo, atraíam‑nos as auroras boreais, acreditava que me poderia tornar um aventureiro bissexto e imaginava que me traria benefício um banho lustral de frio e de silêncio. Last but not least, passar férias em Svalbard era cumprir desejo que, em circunstância encantatória, saíra ao mesmo tempo de duas bocas, a minha e a da Jūratė.
Gastámos os dias a repetir giravoltas em Longyearbyen, terra falha de chamariz credor de realce (pelo menos para o meu gosto). Depressa notei que nunca ali me poderia arrimar a algo que apreciasse, lastimei o dinheiro gasto na viagem. À míngua de melhor alternativa, fomos várias vezes à igreja assistir aos ensaios de um coro de desterrados polares.
Num fim de tarde, a rececionista de serviço no nosso albergue, o Radisson Blu Polar Hotel, pôs‑nos ao corrente de uma excursão, daí a horas, que levaria os participantes a um sítio onde haveria alta probabilidade de avistar auroras boreais. A gentil senhora afiançou‑nos que seria servida «sopa dos Esquimós» e que teríamos ensejo de «fazer novos amigos». Logo antevi um autocarro repleto de criaturas que não despertariam o meu interesse, um cenário e uma sopa preparados para turista ver. No entanto, ansiávamos pelas auroras e arriscámos. Todos os meus presságios se confirmaram. Além disso, os guias repetiram evidências usando o entono de quem desvenda pérolas de sabedoria oriental. Auroras boreais? Nem vê‑las.
Durante a visita a Spitsbergen várias vezes tremi de frio. Comprei indumento com forro idóneo, mas isso não me libertou do envoltório composto por várias camadas de roupa que me fartei de pôr e tirar, conforme saísse ou entrasse em espaço interior.
Acresce que estivemos sempre pendentes do telemóvel, da SMS a anunciar uma aurora boreal. A espera cansou‑me e a almejada mensagem nunca chegou.
Brillat‑Savarin, gastrónomo francês, escreveu: «La découverte d’un mets nouveau fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d’une étoile.»[1] Em Spitsbergen, nenhum tesouro me deixou tão satisfeito como a descoberta de novas iguarias. Recordo‑me, sobretudo, do ragu de rena que comemos no bar do restaurante Huset.
O rolar dos dias em Longyearbyen desfibrou‑me, cedo deixei de aguardar dom daquela terra, daquele gelo. Experimentei o desconsolo e a irritação expressos pelo narrador de A Escuridão do Norte[2]. As viagens continuam a encher‑me de entusiasmo juvenil, mas ali aconteceu o que me parecia impossível ocorrer comigo quando em andanças: indiferença, desapego. Para ser feliz no arquipélago de Svalbard, teria de antepor a fantasia ao real. Já em Oslo, o nosso pouso seguinte, achei‑me redivivo.
Ao invés, a Jūratė gostou muito de ir a Spitsbergen. Prezava‑se de feriar perto do Polo Norte. Ao ver as montanhas cobertas de gelo, lembrou‑se de The Golden Compass (A Bússola Dourada), filme que teve rodagens em Svalbard. Comprouve‑se com a visita a uma estufa de permacultura e com memórias da infância e da adolescência, de idades em que mastigava os flocos de neve, trincava o sincelo, brincava com bolas de neve e com esta fazia bonecos. A nevasca acalma‑lhe o espírito e apura‑lhe o raciocínio, para ela cria silêncio. Dada à estética, a Jūratė aprecia que o manto branco cubra o feio e, de modo imaginário, o elimine. Sempre que chega do exterior frio e alvo e se acomoda em salas e quartos aquecidos, sente paz e aninho, especial satisfação ao beber café ou vinho. O nome lituano «Jūratė» significa «rapariga do mar», mas ela é, sobretudo, uma mulher das neves.
[1] BRILLAT‑SAVARIN, Jean Anthelme, Physiologie du goût, présentation de Jean‑François Revel, [s.l., mas impresso na França], Flammarion, 2017, p. 19.
[2] Cf. DYER, Geoff, Areias Brancas. Experiências do Mundo Exterior, tradução de João Tordo, Lisboa, Quetzal Editores, 2018, pp. 103‑120, passim.