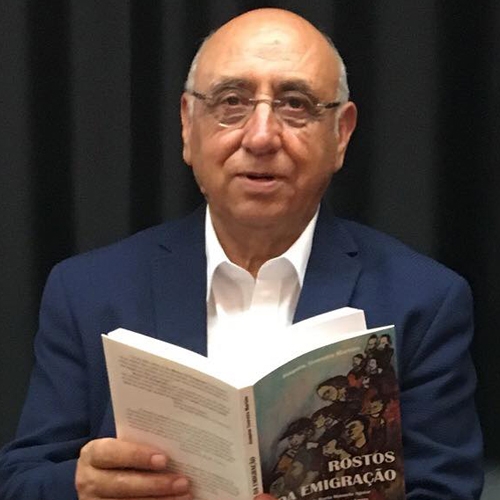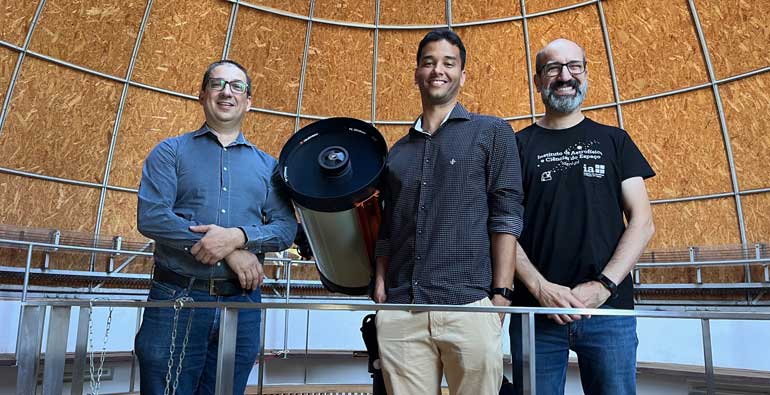Esta publicação é da responsabilidade exclusiva do seu autor!
L’Isle‑sur‑la‑Sorgue, haut lieu do negócio de objetos antigos, é uma terra provençal retalhada pelo rio Sorgue e seus braços. Em virtude da omnipresença da água e da localização no Comtat Venaissin, intitularam‑na de Venise Comtadine. A iconografia local destaca as rodas de água — em tempos idos, rodas da fortuna dos tecelões —, o palacete Donadeï de Campredon, o atavio barroco da colegiada de Nossa Senhora dos Anjos e os nego chin, batéis de fundo chato e nome bruto alusivo ao afogamento de cães resultante da diminuta estabilidade das embarcações, apetrecho dos pescadores de outrora e hoje artefacto para turista ver. Aquando da nossa passagem, o palacete Donadeï de Campredon também era digno de visita por receber uma mostra com fotografias de Jessica Lange, sobretudo imagens do México, que ela gostava de fotografar «for its lights and wonderful nights». O bairro onde os judeus viveram não se presta a carta postal e recorda os juifs du Pape, adstritos aos territórios dos Estados Pontifícios (como o Comtat Venaissin). No referente a sinais da sua presença, só dei por um, a placa que assinalava a Écurie Abraham. Em L’Isle‑sur‑la‑Sorgue, os restaurantes turistificaram‑se e frustram propósitos de gastronomia distintiva. Preços de época alta e anseios de funcionalidade determinaram que eu e a Jūratė nos alojássemos no hotel Les Névons, poiso de conforto monótono encimado por uma piscina muito agradável depois de passeios sob calor de ananases.
Chegámos a L’Isle‑sur‑la‑Sorgue moídos, já a tarde se aproximava do fim. Contumaz desejo de aprender, sempre apto a furar o envoltório de fadiga, levou‑nos a entrar no bonito edifício provençal da fundação Villa Datris. Na exposição aí aberta ao público, demorei‑me diante de Woman, look at you, uma escultura de mulher com o busto prono, obra de Awena Cozannet na qual percebi servilismo e poltronice. Recordei‑me, em particular, do meio académico, de quem lá se alhana, do assistente universitário que, através da janela, vi de cócoras — leu bem: de cócoras — no gabinete de um catedrático apreciador de sabujos. Mais tarde, soube que o trabalho foi feito no Bangladeche. Cozannet impressionou‑se com as árduas condições laborais das bangladechianas e quis, por meio da escultura, homenagear as mulheres. A arte gera interpretações díspares; a que fiz represou num busto inclinado aquela parte do universo académico que, em boa medida, carcomeu a minha crença generosa nas motivações do ser humano.
Numa crónica saída à luz no Jornal do Brasil em 16 de novembro de 1968, Clarice Lispector deu notícia da «dor de museu», uma dolência no ombro esquerdo que só sentia quando, nos museus, caminhava e parava defronte dos quadros (a autora aventou a hipótese de se tratar de uma «dor de emoção»)[1]. Pelo que li na obra de Cozannet, fui acometido, enquanto percorria as salas da mostra, de dor de repulsa, do descompasso que me apoquentava na universidade, nos seus corredores onde via um ror de gente mover‑se a rojo. E lembrei‑me da solidão que neles me atormentava, muita vez mais acerba do que a ressumbrante das susoditas fotos de Jessica Lange.
Em Feuillets d’Hypnos, atos de rechaço do assenhoreamento nazi datados de 1943 e 1944, René Char, escritor e membro da Resistência, natural de L’Isle‑sur‑la‑Sorgue, disse que não escreveria poema de aquiescência[2]. Em meios cediços, eu tampouco o fiz: sempre que deixava de ser possível resistir, afastava‑me.
[1] LISPECTOR, Clarice, Todas as crónicas, prefácio de Marina Colasanti, organização e posfácio de Pedro Karp Vasquez, Lisboa, Relógio D’Água Editores, 2018, p. 127.
[2] CHAR, René, Feuillets d’Hypnos, dossier de Marie‑François Delecroix, lecture d’image de Alain Jaubert, [s.l., mas impresso em Barcelona], Éditions Gallimard, 2018, p. 37.