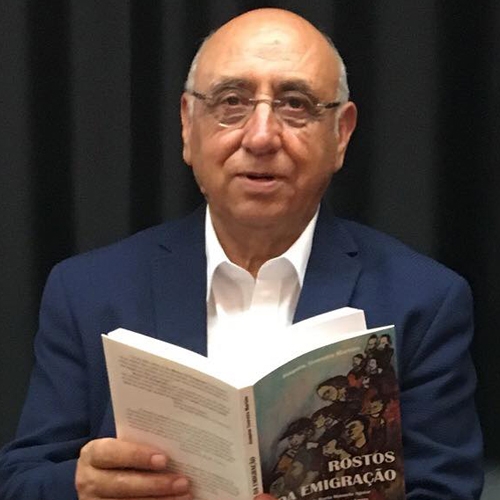Esta publicação é da responsabilidade exclusiva do seu autor!
Girata em dia de sol. Passei muito tempo sub divo, dei‑me ao vento e aos ares sadios. Vi o mar, verdadeiro mar, que tanta falta me faz em Bruxelas.
A praia de Odeceixe é uma língua de areia que sai da povoação de Praia de Odeceixe. É banhada pela ribeira de Seixe, a nascente e a norte, e pelo Atlântico, a poente. Embora o casario sobranceiro à praia não seja castiço, surte belo efeito o arrumo do conjunto que ele forma com a língua de terra, a água e as arribas, parcialmente trajadas de verde. Ali, não quis saber de mais nada. Rendido ao sortilégio das vistas, deixei‑me ficar num alto, em contemplação.
Arrifana. Fixei na memória e em fotos a praia, que leva jeito de baía e está protegida por arribas xistosas, as ruínas do forte erigido em 1635 e ainda o que sobra do ribate da Ponta da Atalaia, um convento‑fortaleza ocupado por monges que se dedicavam à arte da guerra. Quiçá construído por volta de 1130 a mando do mestre sufi Ibn Qasī, foi abandonado em 1151, ano do seu assassínio pelos Almorávidas, dos quais era adversário (Ibn Qasī foi aliado de D. Afonso Henriques).
Bordeira é uma aldeia de que não trouxe grata recordação. Aí me desloquei movido pelo propósito de visitar a igreja paroquial. Esta achava‑se fechada, mas um transeunte encaminhou‑me para a sede da junta de freguesia, a dois ou três minutos do templo. Aí encontraria o presidente dessa entidade, ele me abriria a porta da casa de Deus. A ele me dirigi, disse‑lhe ao que vinha. Respondeu‑me, sic et simpliciter, que não se podia lá entrar. Repliquei‑lhe que me bastaria ficar à porta e daí observar o interior da igreja. Adiantou que estava em reunião e não se podia ausentar. Dispus‑me a esperar o tempo que fosse necessário, retorquiu que tinha outras coisas a fazer. Pareceu‑me que lidava com uma criatura de vistas curtas, desisti. Ficaram, pois, por ver os interessantes trabalhos de talha dourada acomodados na igrejita.
Ao invés, em Carrapateira a fortuna acompanhou‑me. No mercado, perguntei a Zé Manel, que me havia vendido fruta, quem me poderia abrir a porta da igreja, consagrada a Nossa Senhora da Conceição. Calhava ser a sua mulher. Com ela visitei o templo, que reina em local onde existiu um forte, necessário para defender a população dos ataques de piratas africanos. Saliento, no respetivo interior, duas tábuas, provavelmente quinhentistas, uma com a imagem de São Pedro, a outra com a de Santo António.
Ainda na zona de Carrapateira, espreitei, na Ponta do Castelo, os vestígios de um povoado de pescadores, talvez sazonal, erguido no período de dominação muçulmana.
Durante a jornada de passeio, a descontração percebia‑se nos que, enquanto conduziam, punham o braço fora do carro e batiam com as pontas dos dedos na chapa da porta.
Avistei muitas furgonetas carregadas de material de surfe e soube de jovens que se fixaram na orla costeira, praticam surfe e laboram em regime de teletrabalho. Aprecio estas vidas, amenas e com significativa dimensão lúdica.
Já me vai faltando paciência para uma comunidade, a nossa, que mitifica a operosidade e a todos a pretende impor, estigmatizando, outrossim, o vagar e o ócio. Não me parece descabido afirmar que o ethos da sociedade atual agrilhoou os respetivos membros ao trabalho.
Se uma pessoa sente paixão pelo seu ofício e nele acha o sentido da vida, deixemo‑la mourejar. Contudo, a maioria dos humanos bole por necessidade, o labor é um sacrifício, e deve ser posto em causa um paradigma que lhes inflige longuíssimas jornadas de labuta, por regra mal pagas. Um modelo que cria almas e corpos sempre cansados. No livro Ma chi me lo fa fare? Come il lavoro ci ha illuso: la fine dell’incantesimo, Andrea Colamedici e Maura Gancitano consideram que muitas organizações empresariais raptaram os seus funcionários, que depois acabam por ser vítimas de uma síndrome de Estocolmo[1]. Hoje, cada vez mais gente põe em causa esse arquétipo, interroga‑se se faz sentido uma vida de devoção aos afazeres profissionais e ao empregador. Ainda bem que assim é.
Conquanto não corrobore todos os juízos de Colamedici e Gancitano (que, como eu, precisam de trabalhar para viver), recomendo a leitura do suprarreferido livro. Serve, pelo menos, para questionarmos a nossa relação com o mester, tópico especialmente relevante em virtude de nos acharmos sujeitos à finitude da condição humana.
[1] Cf. COLAMEDICI, Andrea; GANCITANO, Maura, Ma chi me lo fa fare? Come il lavoro ci ha illuso: la fine dell’incantesimo, Milão, HarperCollins, 2023, p. 25.