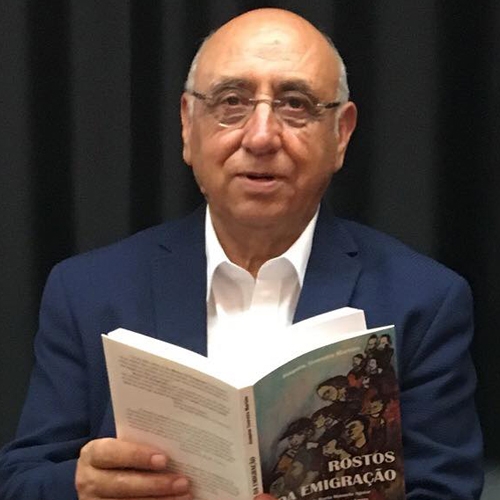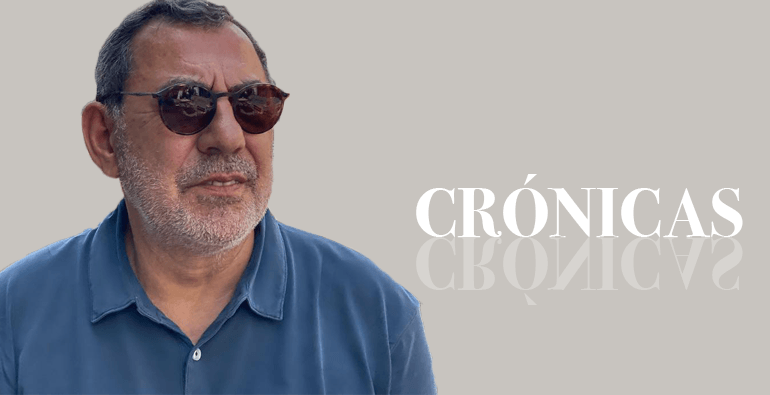Esta publicação é da responsabilidade exclusiva do seu autor!
Iniciámos a visita a Antuérpia na principal gare ferroviária da cidade, construída entre 1895 e 1905. O corpo de pedra do complexo segue estilo eclético, aí sobrelevam a sala dos Passos Perdidos, a escadaria que a liga à zona de embarque e também a fronte, que tem duas torres e dá para a praça Rainha Astrid. Uma cúpula, com lucarnas arqueadas e rematada por lanterna, coroa cada uma dessas torres. O olho voltado para a funcionalidade apreciará a grande estrutura de vidro e de metal tingido de vermelho‑sangue que abriga os cais.
Na sala dos Passos Perdidos, nem só o esmero do adorno, o recurso a vários tipos de mármore e as colunas próprias de várias ordens fixaram o meu tento. Uma inscrição com a divisa da Bélgica («L’union fait la force»), mote que em tese geral muito prezo, trouxe‑me o travor do que anacronizará lema e epígrafe: a secessão. Mesmo durante os tempos duros da crise sanitária provocada pela covid‑19 houve quem sem rebuço nela insistisse.
No âmbito dos seus estudos de fotografia, a Jūratė considera a hipótese de fazer um trabalho documental com imagens do bairro chinês de Antuérpia. Assim, em vista a dar volta exploratória e a coligir algumas impressões, da gare seguimos para Chinatown. No posto de turismo situado na estação tinham‑nos dito que duas ruas compunham o bairro, a saber, a Van Arteveldestraat e a Van Wesenbekestraat. A primeira é desenxabida, própria de um arrabalde triste, não mostra graça nem cor. Só pelo restaurante Fong Mei a associámos ao universo chinês. A única nota louçã veio de uma travesti que usava babygro rosa‑choque, calçava grandes sapatilhas brancas, trazia uma pochete presa à cintura e pintara as unhas de várias cores. O telemóvel luzidio e os sacos de plástico que meneava carregavam o conjunto com mais uns laivos de mau gosto.
A Van Wesenbekestraat é um quadro que, em diversas pinceladas, permite reconhecer o Oriente e, em particular, a China: feições, cabaias, tangzhuangs, um templo, beirais em curva ascendente, restaurantes, joalharia, barbeiro, lojas, o supermercado Sun Wah — todo um mundo no seio daquele bairro —, uma padaria onde se anunciava o inevitável bolo da lua. Num dos extremos dessa via há dois leões de pedra e uma entrada monumental, denominada paifang ou pailou, caraterística do gosto chinês; no outro, há dois leões de pedra. A despeito de tais feituras, o traço arquitetónico de Chinatown denota pouca fantasia. Observando pessoas e negócios, percebe‑se também a presença significativa da comunidade africana. Não demos por comércios mouros, mas vimos homens que trajavam jilaba e fathmas com a cabeça e o corpo cobertos por xador.
Almoçámos no Fong Mei. Fomos servidos por um magricela que agia como um autómato. Com modos amáveis e repetindo o som de agradecimento que aprendi na China, xié xié, várias vezes tentei despertar nele uma pinta de empatia. Sem sucesso. A Jūratė reparou que alguns fregueses bebiam chá antes do repasto e perguntou‑lhe se isso era comum na China. A resposta foi significativa:
— But you have to pay!
Como se a Jūratė tivesse ilusões…
Uma das empregadas de mesa tinha igualmente modos próprios de robô. Nada disto me espantou. Na China, notei que os locais agiam focados nos seus quefazeres e no provento, um puro e mecânico do ut des, sem campo para calores ou afeições no trato com o turista. Nos restaurantes desse país, amiúde tive de pagar logo a seguir à escolha do prato, só depois comia. Vem daí o meu aviso: num negócio com um chinês, este leva sempre a melhor.
O Fong Mei exibe cardápio rico, que inclui mais de trinta pratos de dim sum. Manducámos um dim sum frito, com recheio de porco e camarão, e dois cozinhados a vapor, um deles recheado com cogumelos e o outro com caranguejo e camarão. Todos muito bons. Os pratos principais, pato com ananás e frango com castanha‑de‑caju, dececionaram‑nos, o frango estava mesmo sensaborão. Temo cair num juízo leviano, mas aconselho o leitor que se torne cliente do Fong Mei a provar apenas o dim sum, é ele que justifica a visita à casa. No que toca à sobremesa, nota mediana para os bolinhos de coco e amendoim.
Perto de nós estavam amesendadas seis criaturas de casta asiática (cinco mulheres e um caçapo). Entremeavam de frases em inglês a conversa noutra língua, talvez o mandarim. Não pude deixar de sorrir por causa do imaginário que ali divisei. Teciam loas à América e à possibilidade de nela as crianças se tornarem atores de cinema, partilhavam fotos de hambúrgueres e de um bebé.
Do bairro chinês, ao qual a Jūratė voltará antes de escolher o tema do seu trabalho fotográfico, encaminhámo‑nos para o dos diamantistas — em francês, o quartier des diamantaires. Ele tem inteiro cabimento em Antuérpia, pois uma grande fatia dos diamantes existentes no planeta passa pela cidade para efeitos de lapidagem ou venda. Aí se encontram bolsas de diamantes, joalharias, salas de exposição, oficinas de talhe e polimento. Fica perto da gare ferroviária, que em tempos pretéritos foi o local de desembarque do grosso dos compradores. Hassidistas e indianos jainas dominam o negócio, que também é alvo de trato por arménios e libaneses. Imaginava elegância, ruas com charme e casais chiques dados ao bling‑bling. Mas não. Esta parte da cidade é feia, mesmo muito feia. O espaço público é falho de graça, as lojas têm dísticos enfadonhos e não lobrigámos particular encanto nas joalharias. Outrossim, a maioria dos transeuntes era mal‑apessoada.
Na sinagoga Beth Moshe, da comunidade sefardita, gostei de ver o fervor que uma vintena de homens com o alto da cabeça coberto por quipá punha na prece. Mercê das informações que coletei a propósito do bairro em pauta, aprendi que, no sentido de avaliar a qualidade de um diamante, vale a regra dos quatro cês: color, clarity (grau de pureza), cut e carat weight (peso em quilates).
Com o intuito de diversificar as marcas do dia, voltámos ao carro e rumámos para a Nieuw Havenhuis, que alberga a capitania do porto de Antuérpia. O projeto de Zaha Hadid sobrepôs uma estrutura de vulto — um corpo revestido de vidro engrandece a estrutura — ao edifício de um antigo quartel de bombeiros. A arquiteta convocou dois símbolos da terra, o porto e o diamante. O bloco hialino parece ter o brilho e o talhe dessa pedra preciosa. E as suas linhas, em conjunto com as do maciço pilar que serve de apoio à edificação, arremedam o traçado da proa de um navio. Eis uma obra fotogénica, plena de sentido naquele lugar.
Ainda na esteira da forja hodierna, espreitámos o palácio da justiça e um bairro novo, de habitação cara, situado nas suas cercanias, Nieuw Zuid. O edifício dos tribunais é, por si só, todo um programa. Com essa casa de muito vidro e de silhueta em que prevalece a horizontalidade, a equipa de arquitetos dirigida por Richard Rogers quis transmitir a ideia da Justiça acessível ao comum dos cidadãos. O imóvel é amigo do ambiente, garante poupança de energia. A disposição das alas lembra um pedaço do esqueleto de um peixe. No entanto, o que sobrepuja são as formas do telhado: algumas evocam ondas, as que chegam mais alto recordam as velas de um barco (o rio Escalda passa perto dali).
Em Nieuw Zuid predomina a forma simples, o minimalismo, o traço reto e preciso que parece feito com estilete. Em termos gerais, tudo isso me apraz. Porém, a pedra pesava, não havia elementos capazes de dar alma ao bairro nem vida que perfurasse a membrana do novo. Acresce que, num prédio, a madeira já apresentava sinais de caruncho. Os promotores deste complexo residencial deveriam inquirir os escandinavos e os bálticos acerca do melhor modo de prolongar a boa aparência da madeira. No mês de junho, o desabamento de parte de uma escola em construção derrocou andaimes e causou a morte de cinco trabalhadores que neles se encontravam. Quatro eram lusos. Tal tipo de acidente provoca dores maiores e denuncia uma das sinas de Portugal — ainda e sempre, um exportador de mão de obra barata.