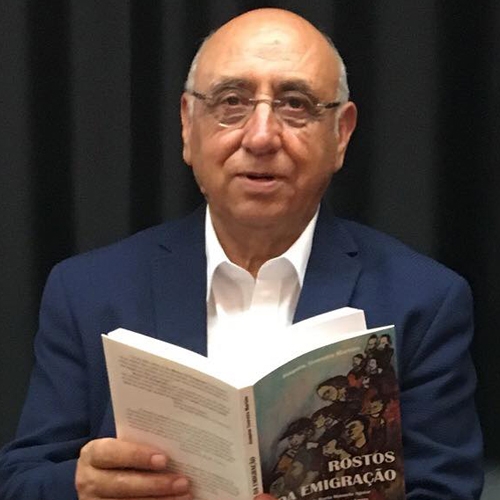Esta publicação é da responsabilidade exclusiva do seu autor!
Ganhara vincado desejo de conhecer a Igreja de São Pedro, a matriz de Lourosa. Data do século x e é um dos poucos templos pré‑românicos existentes em Portugal.
Sabia que se tratava de um espécime de arquitetura moçárabe, com elementos de tradição visigótica e outros de sopro islâmico, e cravei o tento nos ajimezes e nos arcos em ferradura que, no interior do edifício, toucam vãos de passagem. Aos pergaminhos históricos e arquitetónicos da igreja junta‑se, no nártex oblongo, uma peça de arte popular, a maquete do templo, esculpida num tronco de árvore. É um interessante trabalho de Nelson Ramos, artista local.
As cercanias do monumento pedem longor. Aí apreciei as sepulturas escavadas na rocha, o campanário, outrora adossado à fachada principal, e o busto evocativo da «Tia China», a senhora que, durante décadas, cuidou da igreja e abriu as portas aos visitantes. Agora, a claviculária é Luísa. E Luísa é generosa, mas eu não lhe consumi tempo demais, pois ela precisava de ir fazer um bolo para celebrar o aniversário da neta.
Por aqui andou Brito Camacho, médico, político, jornalista e escritor. O que deixou lavrado na sequência da sua passagem por Lourosa, em 1929, só um nico revela a propósito da igreja. Porém, diz bastante acerca do modo de encarar a mulher. Quando menciona Maria do Carmo, a senhora que lhe abriu a porta do templo, fala de uma «perfeita mulher, apezar dos seus quarenta bem contados»[1] (o grifo é meu).
As formas da Capela de Santa Ana, na sede do concelho, resultam, no precípuo, da reforma que sobre ela incidiu no século xvɪɪɪ. Tem torre sineira e um frontispício com três panos, separados por pilastras. Aproveitei a realização de cerimónias funerárias e, discretamente, observei o teto em que predomina azul magnetizante e os retábulos tardo‑barrocos, sobretudo o da capela‑mor, cuja tela representa a Sagrada Família.
Ao lado do edifício da câmara municipal, de traça neoclássica, encontra‑se a Igreja Matriz de Oliveira do Hospital. Achei‑a fechada, aí decorriam obras. Queria visitar a Capela dos Ferreiros e procurei os favores da sorte numa entrada lateral. A porta não estava aferrolhada, entrei à capucha. No interior, ninguém. Os que ali trabalhavam tinham saído para almoçar. Espreitei a talha dourada da capela‑mor e a Capela dos Ferreiros. Nesta consegui ver um dos mais importantes conjuntos funerários góticos portugueses, que inclui as arcas tumulares, com estátuas jacentes, do nobre Domingos Joanes e da sua mulher, Domingas Sabachais. Contemplá‑lo, e pensar no seu significado, aplacou a tensão decorrente de saber que, naquelas circunstâncias, me era interdito estar ali.
Ouvira boa referência ao pábulo d’O Túnel, lá comi sopa de legumes e bacalhau à Gomes de Sá. Ingredientes de qualidade, apurado governo dos tachos e excelente serviço, mas falta aposta forte numa culinária regional distintiva.
Em mesa próxima, a conversa entre dois homens querulomaníacos quase se resumia ao mantra da má vida em Portugal, da rica vida lá fora, e também ao cantochão da incompetência dos políticos (referidos como «eles»). Estavam equivocados, os meus vizinhos de ocasião. Sei que, em terra lusa, os salários são baixos, amiúde indignos. Mas não tenho ciência de clima nem de gastronomia melhores que os nossos. Apesar do que se vai vendo, os tugas dão cartas em matéria de empatia e de humanidade. Só no Japão vi gente mais afável do que a nossa. Acresce que não temos de lidar com terrorismo, ignoramos clivagens linguísticas e as étnicas são pouco relevantes, a democracia não está sob ataque violento — como aveio nos Estados Unidos e no Brasil —, a sociedade não apresenta o nível de polarização que se sente noutros países, por exemplo, na França. Para mim, Portugal continua a ser locus amoenus.
Quanto aos políticos, é verdade que os há muito maus. Acontece que eles emanam da sociedade e, por vezes, quem os critica topa ciscos nos olhos de outrem e não repara na tábua que tem nos seus.
Passei a tarde em Bobadela, aldeia situada na zona onde floresceu um núcleo urbano romano, fundado antes da mudança de era ou, o mais tardar, no ano 5 d. C.
Bobadela tem diversos pontos de interesse. O largo central oferece um quadro bonito, que congloba igreja, uma casa de boa traça, pelourinho e as ruínas do que deve ter sido o fórum. Decisivo em termos de fotogenia é o arco que terá integrado uma porta monumental de acesso à praça romana.
O anfiteatro foi edificado, provavelmente, na parte final do século ɪ. Construído no âmbito de um programa de obras públicas decorrente do desenvolvimento da cidade, acredita‑se que deixou de ser utilizado antes do incêndio que ocorreu no término do século ɪv.
João, o arqueólogo camarário que me acompanhou na visita ao anfiteatro e ao centro explicativo das ruínas, não antecipa novas escavações em Bobadela: os lençóis freáticos estão perto da superfície e a água prejudicaria o curso dos trabalhos.
O Museu Municipal Dr. António Simões Saraiva exibe coleções com valor etnográfico que desvelam a identidade local. Cativaram‑me os baixos‑relevos e as esculturas de madeira de Zeferino Monteiro, um artista do concelho. É chã, e poderosa, a forma como ele evocou temas que não deveriam constar, e desgraçadamente constam, da ordem do dia: a fome, física e moral, a escravatura e o uso da bomba atómica.
Terminei a jornada no Museu do Azeite. Fundado por António Dias, um bobadelense com décadas de experiência na oleicultura, e pela mulher, aberto desde março de 2019, funciona num dos mais interessantes complexos arquitetónicos que conheço, concebido por Vasco Teixeira. A visita merece um drone, para do alto se poder ver aquele enorme ramo de oliveira do qual brotaram desmesuradas folhas e azeitonas.
Aprendi bastante acerca da cultura da oliveira, da história da produção de azeite, do respetivo uso trófico e das suas propriedades salutíferas, impressionaram‑me os lagares de prensagem hidráulica. E tudo forrado com a simpatia das senhoras que, na receção, atendem o público. Não refeiçoei no restaurante do museu, o Olea, espero ter ensejo de o fazer; como se imagina, nele o ouro líquido é rei.
[1] CAMACHO, Brito, Por cerros e vales, Lisboa, Livraria Editora Guimarães & C.a, 1931, p. 123.